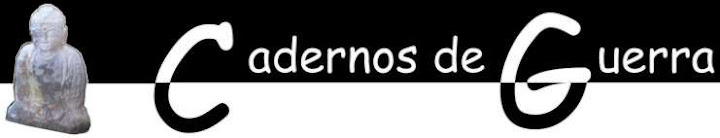Auguste de Saint-Hilaire e alguns outros eminentes botânicos, naturalistas e viajantes fazem menção a um episódio* ocorrido com meus ancestrais que justificou a fama de selvagens dos habitantes do norte de Minas, como lugar sem respeito às leis e aos costumes. Saint-Hilaire já havia advertido outros viajantes contra os habitantes de Arraial das Formigas, atual Montes Claros, dados a roubos e outras vilanias. Antes de escrever seu Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes, parece ter começado a escrever uma Voyage dans arrière-pays des Taphuyas, mas foi desencorajado por esse episódio. Martius cita de passagem o acontecimento, dando um certo quê poético aos cavaleiros reunidos à luz da lua (é certo entretanto que o episódio ocorreu durante o dia). Debret aproveitou essa descrição e imortalizou o episódio, pintando cavaleiros de um clã reunidos em uma meia lua, fazendo justiça com as próprias mãos, como pode ser visto no Rijksmuseum em Amsterdã. De todo modo, esse episódio e outros dele decorrentes espalharam uma imerecida fama da minha terra como sertão brutal e sanguinário e abriu caminho para o isolamento da região pelo século seguinte (o episódio ocorreu nos idos de 1817), tendo sido meu tataravô Ramiro um dos primeiros da minha família a se aventurar fora dali – quis, num gesto romântico de liberal republicano, cumprimentar pessoalmente o Marechal Deodoro na capital da república.
31 de jul. de 2010
A meia lua
26 de jul. de 2010
Livros Velhos
Os acontecimentos narrados aqui são de segunda mão: meu velho amigo está morto há anos. Numa das minhas idas à universidade (levo mais de quarenta minutos até lá, e vou escutando áudio aulas sobre os mais diversos assuntos), ouvi uma palestra sobre a chegada de Cortés ao México e os mitos criados por essa chegada - mitos de que Cortés fora tomado por um Deus (esse parcialmente verdade), outros de que os espanhóis e seus cavalos eram vistos como uma besta só (esse somente uma mentalidade eurocêntrica pode ter inventado, afinal, tirando a cor da pele, não somos tão diferentes assim). A história contada na aula, a história dos livros de história, não é a história de La Malinche, pelo menos não toda a história. Devo a umas manias de meu amigo morto e à perseguição do rei da Espanha aos marranos portugueses o desvendar o segredo de La Malinche - melhor dizendo, o segredo dos sonhos de La Malinche.
Alguns anos antes, Jerónimo de Aguilar tinha naufragado na costa de uma região Maya, e tinha aprendido o dialeto daquelas terras. Homem sangüíneo e vingativo, não tardou a tentar se impor aos povoados que o haviam recebido, tratado dos seus ferimentos e o abrigado. Assumia ares messiânicos, e assim que aprendeu o suficiente da língua e dos costumes, tentou fazer-se passar por um dos deuses daquele povo, exigindo ouro, honrarias e riquezas. Sua paranóia não tinha limites: vendo seu próprio naufrágio como um desígnio divino, indignava-se com a indiferença dos nativos às suas exigências e demandas, tornando-se rancoroso, violento, inconvivível. Os nativos, por sua vez, usavam de certa cautela: afinal, era um ser diferente, uma língua estranha, um comportamento chocante. Mais ao norte, entre os astecas, haviam lendas de deuses assim brancos como ele. Não se dobravam às suas exigências absurdas, mas também não tinham coragem de livrar-se dele, até que tivessem certeza não tratar-se de algum enviado dos estranhos deuses brancos dos astecas.
La Malinche era filha de nobres astecas - com a morte do pai, foi vendida como escrava e dada como morta - e vendida para uma região falante do Maya em Yucatán. Como nobre e filha de nobre, entendia bem seu papel e o papel do seu povo; sujeitou-se a essa vilania como a Santa Maria Egipcíaca do Bandeira.
O encontro de Aguillar com La Malinche permitiu a Cortés um modo eficaz, embora lento, de se comunicar com Montezuma. O que ele não contava é que seus dois intérpretes tivessem agendas próprias: para falar com os astecas, ele tinha que falar em espanhol para Aguillar, que traduzia para o Maya, que La Malinche então traduzia para o Nahuatl. As intenções de Cortés eram duplamente deturpadas: Aguillar, com sua sede de sangue e poder, queria a destruição completa daqueles povos que acreditava terem sido enviados para puni-lo e castigá-lo, e agora queria vingança. Traduzia as frases de Cortés da maneira mais ofensiva possível, xingava os deuses, fazia exigências absurdas, denegria os interlocutores - queria causar uma guerra, queria exterminar os selvagens, os responsáveis por sua desgraça. La Malinche era uma nobre asteca; além disso, não via no rosto de Cortés nada da ira ou desejo de sangue das palavras que eram ditas. Adivinhou que a cobiça de Cortés estava sendo usada para os propósitos do homem horrendo que era a sua boca. Esse homem era só metade da sua boca: ela era a outra metade. Assim, os insultos se transformaram em ponderações, os xingamentos em elogios, as ofensas se amainavam, ela tentava abrandar e diminuir as exigências, a tornar mais suportável o jugo. Aguillar tomava as reações por pusilanimidade e covardia, e escalava os ataques: La Malinche explicava que era um possuído pelos deuses da ira, um louco tocado pelos céus, e que no final o grande general branco concordava com ela. Foi capaz de manter esse delicado equilíbrio por um tempo, meses até. O que Cortés dizia era aumentado e pervertido por Aguillar, e então diminuído e abrandado por La Malinche, de modo que a fala de Cortés acabava traduzida de modo quase perfeito. Aos poucos, La Malinche aprendeu o suficiente de espanhol para mostrar a Cortés as indignidades de Aguillar. Cortés pôs Aguillar a ferros, e esse, sob tortura, confessou todos os malefícios, mentiras e deturpações que perpretara. Seu depoimento, mesmo sob tortura, revela o demônio tomado de ira e vingança, o monstro sedento de sangue em que se transformara. Foi enviado para se tornar frade e expiar seus pecados. O navio em que os autos de seu interrogatório seguiam para a Espanha foi tomado pelo São Gabriel, de bandeira portuguesa, e este, por sua vez, foi abordado por um corsário inglês, fazendo com que tal depoimento encontre-se atualmente no Museu Britânico. Pude ver esses autos por um favor especial de Sir Stephen, amigo de longa data: um amontoado de sonhos sanguinários misturados com penitências e visões apocalípticas. Parece que Aguillar acreditava ou chegou a acreditar que aqueles povos era os últimos remanescentes do Éden, e que ao fazer Cortés destruí-los provocaria a ira divina e o fim dos tempos. Forçaria assim o Juízo Final e a salvação última dos povos... Um louco, enfim, que por vias tortas e pela simples cobiça dos homens, conseguiu seu intento.
Livre de Aguillar, La Malinche acreditou poder dar a seu povo uma chance - aproximou-se de Cortés; tornou-se indispensável a ele. A cobiça e a sede de ouro que havia adivinhado nos primeiros contatos estava lá, ainda mais dura, ainda maior - Cortés não mais queria somente ouro, queria um império. La Malinche tinha visto povos se submetendo a outros, pagando tributos aos mais fortes - fora assim com seu próprio povo, tinha sido sempre assim. Achou que esses novos "deuses brancos", que ela sabia não serem deuses e alguns serem menos que humanos, contentariam-se com tributos e homenagens do império dos seus. Mas não: aquele brilho nos olhos de Cortés indicava que a febre dos deuses da destruição já não o deixaria. Suas terras, seus povos, seus costumes, séculos de história, deuses - tudo cederia diante do conquistador. Cortés chegara a dizer que, depois de Deus, devia a conquista da Nova Espanha a Doña Marina - até seu próprio nome perdera. Sua maldição por ter se aliado a tal pessoa fora maior do que jamais imaginara: tinha se transformado no agente da destruição do seu povo.
Por um momento desesperou-se: então, com a calma que vem das profecias realizadas, entregou-se a Cortés e lhe deu filhos; esses filhos seriam o México, seriam ensinados como seus antepassados, manteriam suas crenças e costumes, misturados com os de Cortés. Seriam um com os conquistadores, mas não seriam conquistadores nem conquistados - seriam um novo povo, um povo que carregaria consigo a memória de uma civilização morta. Enquanto estivesse viva a memória da civilização, estaria ainda viva, mesmo que tênue, a própria civilização, seu próprio povo. Começou a escrever um extenso tratado sobre todas as tradições, deuses, comidas, caminhos, festas, remédios... queria recuperar na sua prole o império perdido. Sabia que o império sobrevive mais de memórias que de monumentos. Queria toda a história do seu povo contada de geração em geração, por seus filhos e os filhos destes, como uma espécie de sociedade secreta subterrânea, que persistisse na veia do império espanhol. Seu filho mais novo morreu de malária e seu filho mais velho brincava com as armaduras espanholas aos doze anos. Entrou para a Armada aos 16, tornou-se capitão e nunca mais sequer entendeu Nahuatl. La Malinche morreu aos poucos, de tristeza. Sua copiosa obra foi tomada em uma incursão de Drake, em 1577, e foi vendida junto com outras quinquilharias para um judeu português de Amsterdã, da Casa Pinto. Este ajudou a minha família a fugir de Portugal quando do domínio espanhol, por volta de 1640, e enviou junto parte dos seus tesouros, incluindo esse "códice Malinche". Pertence aos arquivos do meu amigo morto, e lá está, largado, empoeirado. Com sua morte já se vão as provas das peripécias e caminhos percorridos pelo códice, assim como suas interpretações, as tentativas cuidadosas de tradução que levou décadas fazendo. Tudo inútil, um esforço quixotesco de reviver através de palavras e memórias os desejos de um império extinto. Nem mesmo um império: reviver os gritos desesperados e escritos daquela que foi algoz de um império e mãe de outro, sem querer ser nem uma coisa nem outra. Mas nada adianta: o códice já quase se desmancha - ilegível, misturando um mal espanhol com uma invenção de alfabeto fonético Nahuatl, sobrevive ainda, entretanto, esfarinhando-se aos poucos - a última tentativa de ressuscitar um império, a primeira que conheço através da memória.
25 de jul. de 2010
Blogando
Um meu amigo, autor de alguns livros de relativo sucesso (nenhum bestseller, entretanto), ao encontrar algum leitor que dizia: "Li seu livro e..." interrompia imediatamente: "Ah, foi você!". Como se soubesse ter um só leitor e se espantasse por encontrá-lo assim, no meio da rua. Ou então se espantasse mais ainda com o fato de alguém de fato ter lido o que ele escreveu.
Meu caso é até um pouco pior: como escrevo um blog que não tenho muita intenção de divulgar, enviando posts por email para alguns poucos amigos, acabo conhecendo a maior parte dos meus leitores (sei que só lêem alguma coisa e de vez em quando, a paciência não dá pra tanto, claro). E ultimamente tenho escrito cada vez menos.
Foi inicialmente um exercício quase de "journal", de diário, como aqueles adolescentes, mas tentando dividir coisas e conhecimentos que tinha, colecionador que sou - vídeos, fitas em VHS guardadas por séculos, dvds e cursos garimpados aqui e ali, livros e tirinhas colecionados desde sempre. Uma espécie de abertura de baú de guardados.
Evoluiu para incluir uma certa memorabilia, os casos e causos de Salinas, os meus, as besteiras e irresponsabilidades, os amigos e loucuras, etc. Aos poucos, foram se imiscuindo textos mais ou menos literários, filosóficos, com opiniões sobre tudo e todos, seguindo a afirmação do Otto Lara de que, como bom brasileiro, sei os três primeiros minutos de qualquer assunto.
Serviu todo esse tempo para testar escritas, discursos, parábolas, hipóteses, hipérboles... mal ou bem, minha maneira de escrever saiu diferente. Mas o "público", por pequeno que fosse, tinha suas preferências, fossem os causos, fossem as loucuras e viagens. Infelizmente, tive nos últimos tempos um bloqueio muito forte para escrever: não consigo, pelo menos não por enquanto, escrever sobre coisas que não ocupam minha mente. Acho que até me faria bem ir para um buteco e sentar e contar causos como nos velhos tempos. Ou "mergulhar minha pena no inferno" e sair esculhambando uns e outros. Ainda é uma diversão, isso, não nego. Mas a cabeça agora anda à procura de respostas sobre a formação do herói civilizador, dos gregos ao santo de Unamuno, Nosso Senhor Dom Quixote. De como sociedades inteiras passaram a ter vontades além das próprias necessidades, deixaram a afluência da natureza pela miragem satânica da técnica ou pela promessa deificante e demiúrgica da ciência, das respostas sobre o universo - desejo de que compartilho, inclusive. Quando o saber tornou-se primordial para a espécie? Ou é um subproduto do progresso técnico científico, brincadeira de gente à margem que só é realmente respeitável quando útil?
Junto a essas indagações, debruço-me sobre a minha "bela loucura", que é entender o argentino louco, Borges - traçando suas origens em rapsodos e skalds, o rompimento do eu autoral com deixar de lado reivindicações de autoria e passar a "acusações" de autoria, basicamente inventando autores e textos ou inventando textos para autores reais e vice versa, ao mesmo tempo que dilui e fragmenta os famosos cronotopos de Bakhtin - uma espécie de profeta-avatar da pós modernidade e da diluição das identidades.
A "undécima tese" de Marx sobre Feuerbach dizia que era hora dos filósofos pararem de interpretar o mundo e começarem a transformá-lo. Não mais que cinqüenta anos depois Eliot abandonou a filosofia por saber que os filósofos são bons com idéias, mas a origem e a "verdade" encontra-se nas palavras. Como Mallarmé para Degas, quando este disse que tinha ótimas idéias para fazer poesia: "Mas não são com idéias que se faz poesia, e sim com palavras". As visões de fragmentação de realidade, tempo, espaço, identidade e discurso talvez formem uma nova armadura para o Santo de Unamuno, e este, o Dom, na sua loucura e tragicidade, transforme-se no último dos heróis.
Bão, é isso... o que queria dizer mesmo é que esse blog transforma-se em algo bastante árido e talvez semilouco, a partir de hoje. Divagações, contos, teorias... aos que não quiserem (ou agüentarem a chatura), agradeço a paciência até aqui, com o maior prazer de ter tido sua companhia, mesmo, mesmo. Aos demais, tão loucos quanto eu por perderem tempo comigo, cutuquem, comentem, gritem, xinguem... ninguém mais do que eu tem menos idéia de onde isso vai dar.
5 de jul. de 2010
Multiculturalismos
Eu sou definitivamente e completamente contra os multiculturalistas, e só por fazer afirmações desse tipo já fui execrado algumas vezes. Parece que os multiculturalistas da literatura são diferentes dos multiculturalistas da antropologia ou ciências sociais. Reduzindo o assunto, os multiculturalistas a que me refiro são os intelectuais que do meio para o fim do século XX começaram a relativizar os juizos de valor sobre as "obras canônicas" da literatura ocidental. Errado? Não necessariamente. O Leopold Senghor, por exemplo, fala muito sobre como os africanos de seu país, o Senegal, costumam "dançar" uma idéia ou um pensamento para melhor se apropriar dele - a importância do movimento, da arte e da dança no entendimento do mundo, uma coisa integrada e plástica, o tornar-se um com a natureza e/ou com o pensamento. Imaginem agora um livro ou romance proveniente dessa cultura: uma cena de dança, nesse livro, seria lido por "nós ocidentais" como uma passagem a mais, e pode ter importância fundamental para o autor. São milhares de exemplos assim, claro - mesmo a escrita feminina e masculina apresentam diferenças fundamentais, embora mais próximas se são da mesma cultura. É bastante claro para mim que as importâncias e valores são e devem mesmo ser relativos.
 Mas não devem ser relativizados: o multiculturalismo na literatura faz dessa bandeira uma ideologia, e simplesmente se recusa a avaliar ou fazer qualquer juízo a respeito de qualquer tipo de literatura, e com isso não concordo mesmo. O ponto de vista de quem lê é o que conta - obviamente, para quem lê - e me recuso a deixar de dizer que acho esta ou aquela literatura ou este ou aquele livro bom ou ruim porque foi feito por um africano ou asiático ou uma mulher ou um polinésio albino anão. Em uma dessas discussões, um amigo pontificava sobre a injustiça de que entre os 10 melhores escritores de todos os tempos não tinha nenhuma mulher e nenhum negro. Mas o argumento não era valor literário, era quase valor estatístico - e essa é minha birra. A escolha de um cânone é pessoal e é cultural - o cânone visto como paideuma poundiano, a parte mais viva de uma cultura. É óbvio que o juízo de valor é isso: um juízo de valor, parcial e incompleto. Mas melhor do que qualquer coleção estatística de ações afirmativas em cima da arte. Daqui uns dias, a se seguir essas idéias, o Nobel de literatura vai ser um concurso de minorias não premiadas ou etnias exóticas.
Mas não devem ser relativizados: o multiculturalismo na literatura faz dessa bandeira uma ideologia, e simplesmente se recusa a avaliar ou fazer qualquer juízo a respeito de qualquer tipo de literatura, e com isso não concordo mesmo. O ponto de vista de quem lê é o que conta - obviamente, para quem lê - e me recuso a deixar de dizer que acho esta ou aquela literatura ou este ou aquele livro bom ou ruim porque foi feito por um africano ou asiático ou uma mulher ou um polinésio albino anão. Em uma dessas discussões, um amigo pontificava sobre a injustiça de que entre os 10 melhores escritores de todos os tempos não tinha nenhuma mulher e nenhum negro. Mas o argumento não era valor literário, era quase valor estatístico - e essa é minha birra. A escolha de um cânone é pessoal e é cultural - o cânone visto como paideuma poundiano, a parte mais viva de uma cultura. É óbvio que o juízo de valor é isso: um juízo de valor, parcial e incompleto. Mas melhor do que qualquer coleção estatística de ações afirmativas em cima da arte. Daqui uns dias, a se seguir essas idéias, o Nobel de literatura vai ser um concurso de minorias não premiadas ou etnias exóticas.