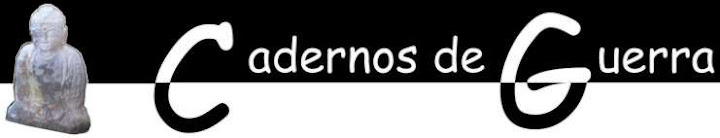O texto abaixo é uma versão de um discurso do Umberto Eco sobre as funções da literatura - onde ele cita o russo Vladimir Propp, como havia dito no post Propp!.
UMBERTO ECO
(Texto publicado em 18/02/2001 na Folha de São Paulo)
Para que serve a literatura?
Eu poderia dizer que ela não serve para nada, mas uma visão tão crua do prazer literário corre o risco de igualar a literatura ao jogging ou às palavras cruzadas
Os grandes livros contribuíram para formar o mundo. A "Divina Comédia", de Dante, por exemplo, foi fundamental para a criação da língua e da nação italianas. Certos personagens e situações literárias oferecem liberdade na interpretação dos textos, outros se mostram imutáveis e nos ensinam a aceitar o destino.
Reza a lenda, e "se non è vera, è ben trovata", que certa vez Stálin perguntou quantas divisões tinha o papa. O que ocorreu nas décadas seguintes provou que, sem dúvida, as divisões são importantes em determinadas situações, mas não são tudo. Existem poderes imateriais cujo peso não se pode medir, mas que ainda assim pesam.
Estamos rodeados de poderes imateriais, que não se restringem aos chamados valores espirituais, como os das doutrinas religiosas. Também é um poder imaterial o das raízes quadradas, cuja rígida lei resiste aos séculos e aos decretos, não só de Stálin, mas do próprio papa. E entre esses poderes eu incluiria também o da tradição literária, isto é, do complexo de textos que a humanidade produziu e produz, não com fins práticos, mas "gratia sui", por amor a si mesma, e que são lidos por prazer, elevação espiritual ou para ampliar os conhecimentos.
É verdade que os objetos literários são imateriais em parte, pois geralmente encarnam em veículos de papel. Mas houve um tempo em que eles encarnavam na voz de quem recordava uma tradição oral, ou entalhados em pedra, e hoje estamos discutindo o futuro dos e-books.
Mas para que serve esse bem imaterial, a literatura? Eu poderia responder, como já fiz noutras vezes, dizendo que ela é um bem que se consuma "gratia sui" e que portanto não serve para nada. Mas uma visão tão crua do prazer literário corre o risco de igualar a literatura ao jogging ou às palavras cruzadas, que, além do mais, também servem para alguma coisa, seja manter o corpo saudável, seja enriquecer o léxico.
Do que estou tentando falar é, portanto, da série de funções que a literatura tem na nossa vida individual e social.
A literatura mantém a língua em exercício e, sobretudo, a mantém como patrimônio coletivo. A língua, por definição, vai para onde ela quer, nenhum decreto superior, nem político nem acadêmico, pode interromper seu caminho nem desviá-lo para situações que se pretendem ótimas. A língua vai para onde quer, mas é sensível às sugestões da literatura. Sem Dante não teria existido um italiano unificado. Dante, em "De Vulgari Eloquentia", analisa e condena os vários dialetos italianos, propondo-se a forjar uma nova língua vulgar ilustrada.
Ninguém apostaria nada nesse gesto de soberba, mas, com a "Comédia", Dante ganhou o desafio. É verdade que vários séculos tiveram de passar para que o vulgar dantesco se tornasse uma língua falada por todos, e só o conseguiu porque a comunidade dos que acreditavam na literatura continuou a se inspirar naquele modelo. Sem esse modelo, talvez nem sequer tivesse vingado a idéia de uma unidade política.
Mas a prática literária também mantém em exercício nossa língua individual. Hoje muitos lamentam o surgimento de uma linguagem neotelegráfica que se impõe por meio do correio eletrônico e das mensagens nos celulares, em que até para dizer "te amo" se usa uma sigla. Mas não esqueçamos que os jovens que trocam mensagens utilizando essa nova taquigrafia são, ao menos em parte, os mesmos que se apinham nas novas catedrais do livro, as megalivrarias, onde, mesmo que só folheando sem comprar, eles têm contato com estilos cultos e elaborados, aos quais não foram expostos nem seus pais nem seus avós.
A leitura das obras literárias obriga a um exercício de fidelidade e de respeito dentro da liberdade de interpretação. Há uma perigosa heresia crítica, típica dos dias de hoje, segundo a qual é possível fazer qualquer coisa com uma obra literária. Não é verdade. As obras literárias convidam à liberdade de interpretação porque propõem um discurso com muitos planos de leitura, defrontando-nos com a ambiguidade da linguagem e da vida. Mas, para poder intervir nesse jogo, em que cada geração lê as obras literárias de um modo diferente, é preciso ter profundo respeito por aquilo que chamo a intenção do texto.
No final do capítulo 35 de "O Vermelho e o Negro", diz-se que Julien Sorel vai à igreja e atira contra Madame de Rênal. Tendo observado que o braço do protagonista tremia, Stendhal diz que Julien dá um primeiro tiro, mas erra o alvo, depois dá um segundo, e a senhora cai. É possível sustentar que o tremor de seu braço, acrescido do fato de errar o primeiro tiro, indicam que Julien não foi à igreja com um firme propósito homicida, mas antes movido por um confuso impulso passional. A essa interpretação é possível contrapor outra: que Julien tinha desde o início a intenção de matar, mas era um covarde. A partitura autoriza ambas as interpretações.
Alguém também pode perguntar onde foi parar a primeira bala, o que é uma boa dúvida para os devotos stendhalianos. Assim como os devotos de Joyce vão a Dublin para procurar a farmácia onde Bloom teria comprado um sabonete em forma de limão, podemos imaginar devotos stendhalianos tentando descobrir em que lugar do mundo fica Verrières e sua igreja, esquadrinhando todas as colunas do templo em busca do buraco daquela bala. Seria um episódio de fanatismo bastante divertido. Mas suponhamos agora que um crítico pretenda basear toda sua interpretação do romance no destino da tal bala perdida. Nos tempos que correm, isso não é inverossímil, até porque houve quem baseasse toda a sua leitura de "A Carta Roubada", de Poe, na posição da carta em relação à lareira. Mas, se para Poe a posição da carta é explicitamente pertinente, Stendhal diz que nunca se soube mais nada daquela primeira bala, excluindo-a assim do conjunto de entidades fictícias.
Sendo fiel ao texto stendhaliano, essa bala se perdeu definitivamente, e onde ela foi parar é irrelevante do ponto de vista narrativo. Por outro lado, o que se cala em "Armance" sobre a possível impotência do protagonista incita o leitor a tecer frenéticas hipóteses para completar aquilo que o relato não diz, ao passo que, em "Os Noivos", de Alessandro Manzoni, uma frase como "a desventurada respondeu" não diz até que ponto Gertrude levou seu pecado com Egidio, mas o halo escuro de hipóteses induzidas ao leitor aumenta o fascínio dessa página tão pudicamente elíptica.
Para muitos, essas coisas poderão parecer obviedades, mas tais obviedades (muitas vezes esquecidas) confirmam o mundo da literatura como inspirador da fé na existência de certas proposições que não podem ser postas em dúvida, com o que ele oferece um modelo de verdade, ainda que imaginário.
Migração
Podemos fazer afirmações verdadeiras sobre personagens literários porque o que lhes acontece está registrado em um texto, e um texto é como uma partitura musical. É verdade que Anna Karenina se suicida, assim como é verdade que a "Quinta Sinfonia" de Beethoven foi escrita em dó menor (e não em fá maior, como a "Sexta") e se inicia com "sol, sol, sol, mi bemol". Mas certos personagens literários, não todos, acabam saindo do texto em que nasceram e migrando para uma região do universo muito difícil de delimitar.
Foram emigrando de texto em texto (e, por meio de várias adaptações, de livro para filme ou balé, ou da tradição oral para o livro) tanto personagens dos mitos como da narrativa "leiga": Ulisses, Jasão, o rei Artur ou Percival, Alice, Pinóquio, D'Artagnan. Mas, quando falamos de personagens desse tipo, referimo-nos a uma determinada partitura? Vejamos o caso de Chapeuzinho Vermelho. As duas versões mais célebres, a de Perrault e a dos irmãos Grimm, têm profundas diferenças. Na primeira, a menina é devorada pelo lobo, a história termina aí, inspirando portanto severas reflexões moralistas sobre os riscos da imprudência. Na segunda, aparece o caçador, que mata o lobo e devolve a vida à garota e à avó. Final feliz.
Pois bem, imaginemos uma mãe que conte a história para seus filhos e a encerre com o lobo devorando Chapeuzinho. As crianças protestariam e pediriam a "verdadeira" história, aquela em que Chapeuzinho ressuscita, e de nada valeria a mãe declarar ser uma filóloga estritamente ciosa das fontes literárias. As crianças conhecem uma história "verdadeira" em que Chapeuzinho de fato ressuscita, e essa história é mais afim à versão dos Grimm que à de Perrault.
Esses personagens se tornaram coletivamente verdadeiros, de certo modo, porque ao longo dos séculos a comunidade fez um investimento afetivo neles. Fazemos investimentos afetivos individuais em muitas fantasias que criamos nos nossos devaneios. Podemos realmente nos comover pensando na morte de uma pessoa amada, ou ter sensações físicas ao imaginar um contato erótico com essa pessoa. De modo semelhante, por meio de um processo de identificação ou de projeção, podemos nos comover com a sorte de Emma Bovary ou, como ocorreu com algumas gerações, sermos levados ao suicídio pelos sofrimentos de Werther ou de Jacopo Ortis. Mas, se alguém nos perguntasse se de fato morreu a pessoa cuja morte imaginamos, responderíamos que não, que foi apenas uma fantasia privadíssima. Contudo, se nos perguntassem se realmente Werther se matou, responderíamos que sim, e essa fantasia não é mais privada, mas uma realidade cultural com que toda a comunidade de leitores concorda. Tanto que julgaríamos louco quem se suicidasse por ter imaginado a morte da amada (sabendo que se trata de fruto de sua imaginação), ao passo que tentaríamos de algum modo justificar a atitude de quem se matasse por causa do suicídio de Werther, mesmo sabendo que se trata de um personagem fictício.
Teríamos então de encontrar a região do universo em que esses personagens vivem e determinam nosso comportamento, tanto que os tomamos como modelo de vida, própria e alheia, e entendemos muito bem quando se diz que alguém sofre de complexo de Édipo, tem uma fome de Pantagruel, um comportamento quixotesco, os ciúmes de um Otelo, uma dúvida hamletiana ou é um don Juan incorrigível.
Contudo hoje há quem diga que também os personagens literários correm o risco de se tornar fugazes, mutáveis, inconstantes, de perder aquela fixidez que nos impedia negar seu destino. Entramos na era do hipertexto, e o hipertexto eletrônico nos permite não apenas viajar dentro de um novelo textual (seja uma enciclopédia inteira ou a obra completa de Shakespeare) sem necessariamente ter de "desenrolar" toda a informação que ele contém, penetrando-o como uma agulha de tricô num novelo de lã. Graças ao hipertexto, nasceu também a prática de uma escritura inventiva livre. Na Internet há programas para escrever histórias em grupo, em que os participantes tecem narrações cujos rumos podem ser modificados até o infinito.
Pensem no seguinte: vocês leram "Guerra e Paz" com paixão, se perguntando se Natasha por fim cederia às lisonjas de Anatol, se o maravilhoso príncipe Andrea realmente morreria, se Pierre teria coragem de atirar em Napoleão, e agora vocês podem refazer seu Tolstói, dando a Andrea uma vida longa e feliz, transformando Pierre no libertador da Europa. E, muito mais, vocês podem reconciliar Emma Bovary, agora mãe feliz e pacificada, com seu pobre Charles; fazer Chapeuzinho Vermelho entrar no bosque e encontrar Pinóquio ou então ser raptada pela madrasta e obrigada a trabalhar com o nome de Cinderela para Scarlett O'Hara, ou então encontrar no bosque um mágico chamado Vladimir Propp, que lhe dá um anel encantado graças ao qual ela descobrirá, ao pé da bananeira sagrada dos tugues, o Aleph, aquele ponto de onde se vê todo o universo. E Anna Karenina não morrerá esmagada nos trilhos porque, sob o governo de Putin, os trens russos de bitola estreita funcionam pior do que os submarinos, enquanto longe, muito longe, além do espelho de Alice, Jorge Luis Borges lembra a Funes, o memorioso, que não se esqueça de devolver "Guerra e Paz" à biblioteca de Babel.
Seria isso errado? Não, porque também a literatura já o fez, e antes dos hipertextos, com o projeto de "Le Livre", de Mallarmé, os cadáveres "exquis" dos surrealistas, os milhões de poemas de Queneau, os livros móveis da segunda vanguarda.
Iuri Lotman, em "Cultura e Explosão", retoma a famosa recomendação de Tchecov segundo a qual, se no início de uma narração ou de um drama se mostra um fuzil pendurado na parede, antes do fim esse fuzil deverá disparar. Lotman dá a entender que o verdadeiro problema é se o fuzil realmente disparará. É justamente o fato de não saber se o fuzil disparará ou não que confere significância ao enredo. Ler uma história também é ser capturado por uma tensão, por um espasmo. Saber se no final o fuzil disparou ou deixou de disparar não tem o simples valor de uma notícia.
É a descoberta de que as coisas aconteceram, e para sempre, de certo modo, à margem do desejo do leitor. O leitor deve aceitar essa frustração e, por meio dela, sentir o tremor ante o Destino. Se pudéssemos decidir o destino dos personagens, seria como ir ao balcão de uma agência de viagens: "Então, onde o senhor quer encontrar a Baleia, em Samoa ou nas Aleutas? E quando? Deseja matá-la o senhor mesmo ou deixa o serviço para Queequeg?". A verdadeira lição de "Moby Dick" é que a baleia vai para onde ela quer.
Pelos olhos de Deus
Pensem na descrição que Hugo faz da batalha de Waterloo em "Os Miseráveis". Diferentemente de Stendhal, que descreve a batalha pelos olhos de Fabrizio, que está dentro dela e não entende o que está acontecendo, Hugo a descreve pelos olhos de Deus, vê a cena do alto: sabe que, se Napoleão soubesse que além da crista do Mont Saint-Jean havia um precipício (o que seu guia omitira), os couraceiros de Milhaud não teriam sucumbido aos pés do exército inglês; que, se o pastorzinho que guiava Bülow tivesse sugerido outro percurso, a esquadra prussiana não teria chegado a tempo de decidir a sorte da batalha.
Numa estrutura hipertextual, poderíamos reescrever a batalha de Waterloo fazendo com que os franceses de Grouchy chegassem antes dos alemães de Blücher, e já existem divertidos jogos de guerra que nos permitem fazer isso. Mas a trágica grandeza daquelas páginas de Hugo reside no fato de (à margem do nosso desejo) as coisas acontecerem como acontecem. A beleza de "Guerra e Paz" está em que a agonia do príncipe Andrea termine com a morte, por mais que essa morte nos desagrade.
A dolorosa maravilha que cada releitura de um grande clássico nos proporciona se deve a que seus heróis, que poderiam fugir de um fim atroz, por debilidade ou por cegueira, não entendem contra o que se debatem e se precipitam no abismo que cavaram com os próprios pés. Por outro lado, Hugo disse, depois de mostrar as oportunidades que Napoleão poderia ter aproveitado: "Era possível que Napoleão ganhasse essa batalha? A resposta é não. Por quê? Por causa de Wellington? Por causa de Blücher? Não. Por causa de Deus".
É isso o que dizem todas as grandes histórias, sendo possível, em todo caso, substituir Deus pelo destino ou pelas leis inexoráveis da vida. A função das narrativas imodificáveis é justamente essa: contrariando nosso desejo de mudar o destino, nos fazem experimentar a impossibilidade de mudá-lo. E assim, que seja a história que elas contem, contarão também a nossa, e é por isso que as lemos e as amamos. Necessitamos de sua severa lição "repressiva". A narrativa hipertextual pode educar para o exercício da criatividade e da liberdade. Isso é bom, mas não é tudo. As histórias "já feitas" nos ensinam também a morrer. Creio que essa educação para o fado e para a morte é uma das principais funções da literatura. Talvez existam outras, mas agora me escapam.
Umberto Eco é escritor e semiólogo italiano, autor de, entre outros, "A Ilha do Dia Anterior" e "O Pêndulo de Foucault", ambos da Record. O texto acima é uma versão de um discurso do autor sobre as funções da literatura.
Tradução de Sergio Molina.
Copyright "La Nación" e "Corriere della Sera" e "Folha Online".
Clique aqui para a Biblioteca Folha
25 de mar. de 2010
Biblioteca Folha - A literatura contra o efêmero
24 de mar. de 2010
Imaginação e fantasia
[continuação e conjecturas a respeito do post anterior]
Uma interseção interessante entre o trabalho de Propp sobre a morfologia dos contos maravilhosos e a literatura fantástica dos séculos XIX e XX pode ser encontrada, curiosamente, em Walt Disney. (Depois que escrevi é que percebi a temeridade da afirmação... mas vamos lá.)
Disney adaptou vários contos populares em versões "amaciadas", como Branca de Neve, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e outros - acho que todo mundo viu pelo menos algum desses "clássicos Disney". Não sei se alguém se lembra, entretanto, do Coelho Quincas - que vivia fugindo e enganando os dois brutamontes descerebrados João Honesto (o nome é uma ironia com a raposa mais que larápia) e João Grandão, o urso. Esse conto se baseia em um personagem que tem grande ressonância na cultura afro-americana, mas que não diz nada pra nós - talvez o mais próximo que tenhamos desse personagem seja o Saci, o curupira ou Pedro Malasartes. Brer Rabbit, no original, é um personagem arquetípico da tradição oral afro-americana, baseado em dois animais mitológicos africanos, a aranha Anansi, do povo Ashanti, e Ijapa, uma tartaruga Ioruba. Como esses arquétipos, sofre perseguição de animais maiores, e sempre sai ileso usando sua inteligência superior, sua rapidez de pensamento e, se tudo o mais falhar, sua maior velocidade. (Esses personagens não são incomuns na tradição européia, onde vão desde Pedro Malasartes - Pedro Urdemales - ou mesmo, para ficar num exemplo recente, o personagem em que se baseia a peça Till, do Grupo Galpão).
Bom, Disney adaptou a história para desenho animado, e a curiosidade é que, num determinado momento do primeiro desenho, o arte-finalista esqueceu de desenhar uma cerca sobre um precipício - e o Quincas estava apoiado nessa cerca. Quando passou o desenho, Quincas apareceu então apoiado em pleno ar, desafiando as leis da gravidade... para surpresa e gargalhada geral dos desenhistas. Diz a lenda que foi a partir desse escorregão que perceberam o potencial desafiador do desenho e iniciaram, a partir desse episódio, aquelas circunstâncias fantásticas onde o personagem anda sobre o ar e só cai quando percebe que não há nada debaixo dele - ou só sente dor quando vê que a mão está pegando fogo, e inúmeras outras situações absurdas como essas...
PS: Só para adicionar um tempero mais fantástico - nesse caso, da minha imaginação, puramente - o bispo Berkeley, com seu nominalismo, a ser levado ao pé da letra, permitiria situações assim na nossa realidade. Mas isso já é muita viagem... só pra chatear os filósofos recentes que tentam ressuscitar o bom bispo.
PS 2: Apesar de ter sido recolhido na cultura oral do sul escravagista dos Estados Unidos, a forma tomada pela narrativa escrita - principalmente nas narrativas do "Uncle Remus" de Joel Chandler Harris - é claramente condescendente e racista, como no famigerado Cabana do Pai Tomás (outro "uncle" no original, Uncle's Tom Cabin). A narrativa de Disney não traz isso de maneira perceptível, tentando ficar somente no caráter lúdico-didático das fábulas e contos populares originais.
22 de mar. de 2010
Propp!
"Os contos de fada não ensinam às crianças que dragões existem. As crianças já sabem que dragões existem. Os contos de fada mostram às crianças que dragões podem ser derrotados".
G.K. Chesterton
.....Eu, como autodidata, faço jus à má fama que o Otto Lara Resende atribuía aos brasileiros em geral: sei, como todo bom brasileiro, os três primeiros minutos de qualquer assunto. Mas como autodidata em quase tudo, de marcenaria a semiótica ou de poesia a adjetivação de governos, acabo tendo que seguir "pistas": uma coisa leva a outra, uma menção de um autor remete a outro livro, que por sua vez leva a outro autor e assim por diante. Foi assim que conheci Vladimir Propp: e em boa hora.
.....Quando comecei um curso chamado Masterpieces of the Imaginative Mind, com o Prof. Eric S. Rabkin, da Universidade de Michigan (mais sobre o curso aqui), a segunda aula intitulava-se Propp, Structure, and Cultural Identity. O nome fez soar algo: já tinha ouvido falar dele... onde? Logo fui atrás do seu livro mais famoso, que se chama Morfologia do Conto Maravilhoso - uma análise instigante sobre as "leis" que regem a formação do conto maravilhoso, de narrativa oral (ao menos inicialmente). Lembrei-me então da primeira vez que o ouvi - em Guimarães Rosa. Novamente, em Italo Calvino. Por último, num discurso do Umberto Eco. Os dois primeiros são notadamente, a meu ver, escritores fabulares, fabulosos: os contos do Rosa seguem a estrutura morfológica dos contos fantásticos dos irmãos Grimm e as categorias de Propp. Um burrinho que sai em aventuras; conversas de bois; a volta do marido pródigo; todo o Sagarana, para ficar em um único livro, é permeado pela narrativa oral, que, como notou João Cabral de Melo Neto, mostra o gênio do Rosa em "fabricar" histórias que poderiam passar por cultura popular oral, e que vão além. Calvino não fica atrás: um barão que vive nas árvores, um cavaleiro que não existe - ou melhor, existe por pura vontade de existir - e um visconde partido ao meio, por exemplo. Mas nas Seis Propostas para o Próximo Milênio e no Por que Ler os Clássicos ele revela essa influência de maneira mais expressiva ainda, quase como proposta de leitura. O fantástico em Umberto Eco é mais aprimorado e não chega a atingir a "arte da fábula", e nem é essa a proposta dele, acredito. Em Umberto Eco você pode descobrir camadas de significado, palimpsestos, onde um bibliotecário cego chamado Jorge de Burgos remete a Jorge Luis Borges, com a sumprema ácida ironia de querer destruir o riso escondendo um livro sobre comédia...
.....Em Propp está o início do estudo do conto maravilhoso e sua relação com os ritos, os mitos, a historicidade e mais além - fiquei intrigado com as relações entre cultura popular e conto oral, entre costumes, ritos e crenças e sua inclusão ou aderência à cultura em geral. E ainda mais impressionado com o uso que tanto Calvino quanto Rosa fizeram dessa estrutura, projetando a cultura um passo além, criando seu próprio universo de fábulas e contos. O curso do Prof. Rabkin não segue por esse caminho, preferindo enveredar pelo fantástico e pela ficção científica, cyberpunks e pósmodernismos. Preferia que tivesse se aprofundado na arte de desnudar o inconsciente coletivo e de contar histórias, como fizeram Rosa e Calvino.
11 de mar. de 2010
Entrevista com João Cabral de Melo Neto
Um dos meus "tesouros" guardados é a coleção da Revista 34 Letras, que foi publicada, se não me engano, entre 1988 e 1990 - saíram apenas sete números. Nos últimos anos consegui comprar todos. O número 3 é especial: tem uma das maiores (e melhores) entrevista já feita com João Cabral de Melo Neto, onde ele fala de tudo: processo criativo, relações com o concretismo, amizade com Miró, poesia, crítica, etc. No fim do post, um link para download da entrevista, em PDF (ainda não corrigi, só escaneei, portanto, agradeço se apontarem erros no processo). Vou publicar também alguns trechos: o primeiro, João falando de João - João Cabral falando do processo criativo e da fabricação da linguagem de João Guimarães Rosa (na verdade, no meio de uma consideração sobre escritores pernambucanos...).
Ninguém escreveu em português
no brasileiro de sua língua:
esse à-vontade que é o da rede,
dos alpendres, da alma mestiça,
medindo sua prosa de sesta,
ou prosa de quem se espreguiça.
Casa Grande & Senzala Quarenta Anos in "Museu de Tudo", in "Museu de Tudo e Depois" - Poesias Completas lI, Nova Fronteira, 1988, RJGilberto podia ter todos os defeitos do mundo, mas quando alguém vem com Guimarães Rosa para cima de mim eu digo não, ele escrevia numa língua fabricada! Tinha o gênio. Um gênio que nem sempre Joyce tinha. Joyce quando inventava uma palavra, essa palavra não parecia irlandesa. Essa palavra parecia cosmopolita. Agora quando Guimarães Rosa inventa uma palavra, essa palavra parece uma palavra caipira de Minas. Então todo mundo vê aquilo e pensa que é uma expressão que ele ouviu em Minas. Eu o conheci muito bem, e ele falava para você: "Não, essa palavra eu fiz". Por exemplo: Sagarana. Ele fez com Saga, que é um negócio nórdico, e rana que parece que em tupi quer dizer como. Sagarana quer dizer Como Saga... A palavra soa como se fosse uma palavra brasileira. Eu me lembro que Guimarães Rosa gostava de conversar comigo sobre esse negócio de fabricação da escrita. E ele me mostrava coisas que eu confesso que estranhava. Eu me lembro que quando saiu Corpo de Baile, eu estava no Itamaraty nesse tempo, e então ele me perguntou: "Você tá lendo?" Eu disse: "Tô lendo". "Em que parte você está?" "Ah bom, eu não sei em que página eu estou". "Você já passou naquele pedaço?" É um conto muito bonito em que tem uma onça ameaçando um rebanho de gado. Então o touro fica no meio, cercado pelas vacas, e fica em pé para enfrentar a onça, se ela ousar se aproximar das vacas que ficam ao redor dele. Não estou bem lembrado, mas parece que a onça avança e o touro mete uma chifrada nela, e está claro que o sangue jorra. Ele me perguntou então: "Chegou naquela parte?" "Cheguei". "E você não viu?". Digo: "Não". Ele diz na passagem que o sangue jorra, ou sai num jato, o sangue brotou como um jato, a idéia é essa. "Você viu que no fim daquela frase tem um ponto de exclamação?" Eu digo "Vi". "Agora você não notou no livro que o ponto de exclamação está diferente?" Eu digo: "Não, por quê?". Ele disse: "Porque o ponto de exclamação tem um ponto antes e outro depois" (nota: .!.). Eu disse: "E daí?" Ele disse: "É para dar a idéia de um jato". Quer dizer, é um negócio fantástico, ninguém notou isso. Eu notei porque ele me chamou a atenção. Então realmente o que ele fez dá a impressão de uma fonte jorrando. Se você se fixar na tipografia, você vai pensar que aquilo é um erro de revisão. E ele fez aquilo de propósito. E o Rosa tinha dessas coisas, que ao mesmo tempo só ele compreendia, porque se ele não dissesse esse negócio... Vocês teriam notado isso?
Clique aqui para obter a entrevista completa (pode ser que apareça uma tela oferecendo uma conta no site, mas é só fechá-la e a imagem abaixo deve aparecer, depois do que é só clicar e fazer o download).
7 de mar. de 2010
O Chefão
"Entre o chefe da Família, Don Corleone, que ditava a política, e o nível operacional de homens que realmente executavam suas ordens, havia três camadas, ou amortecedores. Desse modo, nada podia ser atribuído ao chefe. A menos que o consigliori ["conselheiro", uma espécie de Chefe do Gabinete Civil] se tornasse traidor. Naquela manhã de domingo, Don Corleone deu instruções explícitas sobre o que se devia fazer [...]. Dera tais ordens em particular a Tom Hagen. Mais tarde, no mesmo dia, Hagen, também em particular e sem testemunhas, instruíra Clemenza. Por sua vez, Clemenza dissera a Paulie Gatto para cumprir a missão. Paulie Gatto reuniria agora os homens necessários e executaria as ordens. Paulie Gatto e seus homens ignoravam por que essa determinada tarefa estava sendo executada ou quem a ordenara inicialmente. Cada elo da corrente devia tornar-se traidor, para que Don Corleone fosse envolvido no caso, e embora nunca até então isso tivesse ocorrido, havia sempre essa possibilidade. O remédio para tal possibilidade era também conhecido. Apenas um elo da corrente tinha de desaparecer."
O "desaparecimento" do elo hoje em dia pode ser trocado por "eclipse político", cuidar de fazendas no interior de Goiás, virar consultor, ficar à espreita do esquecimento público e da necessária sanção da justiça - a não condenação significa que a coisa foi bem feita, não que não foi feita. E tem dado certo... Péricles, grande ateniense, há mais de dois mil anos listava "ser incorruptível" entre as premissas de um estadista. Isso já foi esquecido. Millôr acrescentou com propriedade, "não esquecer de corromper a maioria", o que tem sido feito alegremente. No mais, enquanto não há crise econômica, não há culpados. Estamos realmente nos aproximando do Primeiro Mundo...
4 de mar. de 2010
Reinventar-se
Pouca gente sabe o quão profunda foi a ligação entre Miró e João Cabral de Melo Neto. João admirava em Miró coisas que, à primeira vista, são antagônicas a ele, João. Mas ele mesmo deu a pista em Dúvidas apócrifas de Marianne Moore. João admirava o intuitivo puro que havia em Miró, o lúdico, o menino ancestral que brincava refazendo a realidade. Essa admiração pelo intuitivo puro, vindo de um poeta que parou de fazer versos livres porque achava muito difícil "jogar tênis sem rede", que criava dificuldades para si próprio fazendo poesia com rimas esdrúxulas, cesura interna, etc., e era considerado um ícone da "poesia cerebralista", diz muito do "João interior". Mais ainda porque outra admiração dele é que o elogio máximo que o Miró tinha para algo era "Vivo!", e João adorava ouvir esse "Vivo!", aplicado a uma música, um poema, pessoa, casa, ponte, mulher, palavra.
Para mim, o estudo crítico do João sobre o Miró é uma peça chave no entendimento do Miró, e é uma pena que seja tão pouco conhecido, ainda mais por ter sido feito num período de convivência íntima dos dois. Vou ver se consigo publicá-lo aqui, para download. Mas chega, enchi. O que queria mostrar era esse pequeno poema do João sobre o reinventar-se constantemente do Miró - algo que falta em nós, que acho que a cada x anos a gente devia destruir todos os altares interiores, expulsar os vendilhões do templo, sacrificar as vacas sagradas e começar de novo.
O sim contra o sim
(João Cabral de Melo Neto)
Miró sentia a mão direita
demasiado sábia
e que de saber tanto
já não podia inventar nada.
Quis então que desaprendesse
o muito que aprendera,
a fim de reencontrar
a linha ainda fresca da esquerda.
Pois que ela não pôde, ele pôs-se
a desenhar com esta
até que, se operando,
no braço direito ele a enxerta.
A esquerda (se não se é canhoto)
é mão sem habilidade;
reaprende a cada linha,
cada instante, a recomeçar-se.